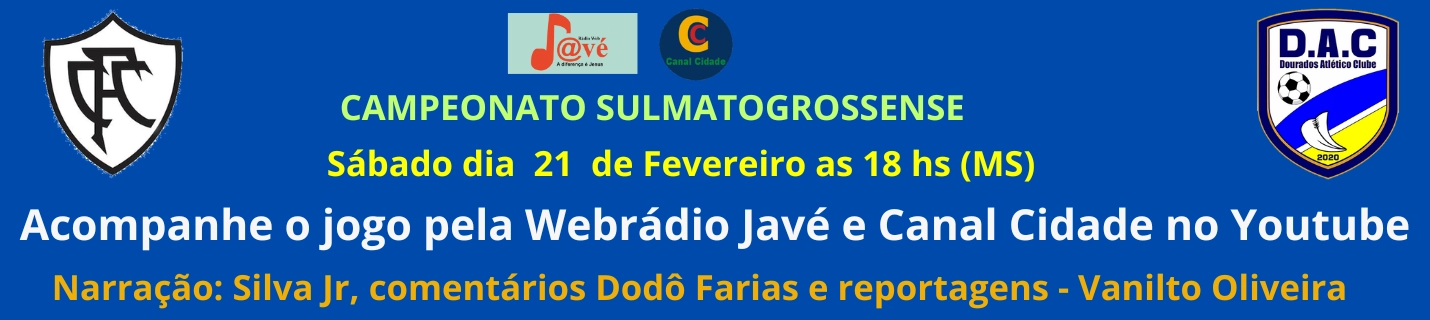Há uma crença difusa que atravessa sociedades contemporâneas: a de que o poder reside em instâncias externas — no Estado, na economia, no patrão, no empresário, na tecnologia, na opinião pública, no mercado, no algoritmo, em Deus, nos políticos, nas elites econômicas, no Médico, no Juiz de Direito. Essa crença não é inofensiva. Ao contrário, constitui um mecanismo silencioso de esvaziamento da potência individual. Quanto mais alguém eleva forças exteriores à condição de entidades soberanas, mais reduz a própria capacidade de ação, tornando-se refém de dispositivos que passam a organizar gestos, escolhas e até desejos.
O problema não está apenas na existência de estruturas amplas e complexas, nem na presença histórica de crenças religiosas ou desigualdades econômicas. O ponto decisivo reside na forma como tais instâncias são investidas de uma autoridade quase absoluta. Quando se atribui a Deus um controle total sobre destinos humanos ou se imagina que pessoas ricas determinam cada engrenagem da vida social, consolida-se uma divisão artificial entre um poder transcendente e um sujeito supostamente impotente. Essa cisão é produzida por discursos que apresentam essas figuras como centros inquestionáveis de comando.
No entanto, o poder não opera como um objeto concentrado em um único lugar. Ele circula. Manifesta-se em redes, práticas, rotinas. Atua em escolas que classificam desempenhos, em hospitais que definem normalidades, em tribunais que delimitam o aceitável, em plataformas digitais que modulam visibilidades, em comunidades religiosas que orientam condutas e em mercados que distribuem oportunidades. Essas instâncias não apenas reprimem; elas produzem comportamentos, saberes e identidades.
No campo religioso, por exemplo, a figura de Deus não é apenas objeto de fé; ela é também articulada por discursos teológicos, normas morais e práticas institucionais. Quando alguém entende tal instância como autoridade total que governa cada pensamento e cada ato, tende a submeter decisões íntimas a interpretações externas. A consciência transforma-se em tribunal permanente. A vigilância deixa de ser apenas social e torna-se espiritualizada.
De modo semelhante, a concentração de riqueza cria a impressão de que pessoas ricas controlam integralmente a ordem social. Embora detenham recursos e influência significativos, a ideia de um domínio absoluto reforça a sensação de impotência coletiva. A crença de que todo movimento depende da vontade de elites econômicas pode gerar paralisia política e resignação cotidiana. Ao aceitar essa narrativa, o indivíduo reduz a própria margem de ação e passa a ver a desigualdade como fatalidade.
A história do sistema penal moderno ilustra outra transformação relevante. Houve um tempo em que o poder soberano se exibia por meio do espetáculo do suplício. Com a modernidade, o castigo deixou a praça pública e entrou em instituições fechadas. Surgiu uma forma de poder mais discreta, porém mais penetrante: a disciplina. Vigilância constante, exames, relatórios, horários, classificação. Não é mais o golpe visível que domina, mas o olhar que observa e compara.
Nesse contexto, a prisão não se limita a punir crimes; ela produz um tipo específico de sujeito. O mesmo ocorre na escola, que fabrica o aluno medido por notas, ou no hospital, que constrói o paciente descrito por diagnósticos. A eficácia desses dispositivos depende da adesão dos próprios indivíduos às categorias que lhes são atribuídas. Quando alguém aceita integralmente essas definições como verdades absolutas — sejam científicas, econômicas ou religiosas — transfere a instâncias externas a capacidade de dizer quem é, o que pode e o que deve fazer.
No campo da sexualidade, algo semelhante ocorre. Longe de ter sido silenciado, o sexo foi colocado em discurso por médicos, psicólogos, educadores e moralistas. A pessoa que encara tais discursos como autoridades incontestáveis submete a própria experiência a critérios externos, ajustando sentimentos e práticas a normas predefinidas.
A crença em um poder exterior absoluto — seja ele divino, econômico ou institucional — funciona como tecnologia de governo. Ela induz autocontrole. O indivíduo vigia a si mesmo, corrige a postura, modera palavras, calcula riscos. O olhar do outro, real ou imaginado, passa a habitar a consciência. Não é necessário um vigilante permanente quando a vigilância foi incorporada.
Esse processo produz uma forma paradoxal de sujeição. Ao reconhecer forças externas como dominantes, o sujeito participa da própria subordinação. Atribui grandeza ao aparato que o enquadra e reduz a margem de manobra que poderia explorar. O poder, nesse caso, não precisa se impor pela violência direta; basta que seja percebido como onipresente e inevitável.
O desafio não consiste em negar a influência de crenças religiosas ou a força de elites econômicas, mas em recusar a ideia de que elas esgotam todas as possibilidades de ação. Onde há poder, há também possibilidade de resistência — não como gesto isolado e grandioso, mas como prática cotidiana de questionamento, reorganização e reinvenção.
Quanto maior o poder atribuído ao exterior, menor a confiança na própria capacidade de agir. Ao perceber que o poder circula, que depende de relações e que se sustenta por meio de adesões e práticas, torna-se possível interromper o ciclo de submissão. O primeiro passo não é destruir instituições ou negar a fé, mas questionar a narrativa que transforma Deus, pessoas ricas ou qualquer outra instância em entidades inalcançáveis e totais. Nesse gesto crítico pode emergir uma potência que havia sido obscurecida pela própria crença na força do exterior.